Ainda estou aqui: do íntimo à história
Foto: Divulgação.
Por Diogo Dias
[Atenção, spoilers na pista. ⚠️]
Uma das principais dificuldades de se compreender a política atualmente é a crise de um pensamento que separava como água e óleo o público e o privado. A ideia de que a política era assunto da porta de casa pra fora já não consegue esconder que ela começa — e sempre começou — no seio do lar familiar. Isso quer dizer que a racionalidade fria que mira o estranho precisa disputar espaço com os afetos que envolvem parentes, amigos, amores. A política, no fim das contas, tem muito mais a ver com nosso íntimo do que gostaríamos de admitir.
Encontrar um ponto sensível nessa grande massa cinzenta que são os afetos políticos é o grande trunfo de Ainda estou aqui. Ao contrário do que o próprio Walter Salles declarou, o filme é profundamente político. Menos pelo seu discurso, mais pelo extraordinário poder de emocionar plateias com uma história que relembra uma espécie de memória que parecia não sensibilizar mais ninguém num país embrutecido. Quantas pessoas não vimos naturalizar a ditadura civil-militar e suas barbáries na última década? Ainda assim, plateias bastante heterogêneas estão indo às lágrimas, por tristeza e raiva, com a história da família Paiva.
Mas como Ainda estou aqui faz isso?
De certa forma, o filme alcança uma forma de reproduzir para o público o clima ambíguo e cínico engendrado pela ditadura. Ao mesmo tempo que a vida seguia seu curso, algo sinistro pairava no ar. A vida parecia um jogo de azar, em que um sutil movimento poderia denunciar suas reais intenções por trás de um blefe constante. Como se houvesse um transação silenciosa entre a superfície e sua aparente normalidade, e o subterrâneo (ou os porões) e seu vale-tudo sangrento. A materialização desse clima sinistro é o desaparecimento. Parece não haver tortura e morte, mas há. Parece possível a volta, mas não é. E aqui o íntimo e o absolutamente político se chocam em sua inevitável verdade: eles são inseparáveis.

Foto: Divulgação
A divisão entre o antes e depois da prisão de Eunice é uma representação em nível privado do que foi o antes e depois do AI-5. Até um certo momento, a ditadura seguia alguns limites, mas o desejo sempre foi radicalizar. No filme, esse é um momento em que começamos a entender como o cerco de violência era um sórdido esquema de torturas físicas e psicológicas.
A contenção de Eunice nessa segunda parte, que nos coloca em franco estranhamento com o clima expansivo e alegre da primeira parte do filme, é a alma do longa. É essa postura que sintetiza a dor profunda, a raiva e a consciência de sobrevivência e luta. Era preciso continuar, sustentar a família e não se omitir diante do inimigo. Fernanda Torres ensina como toda uma geração de sobreviventes aguentou os anos de chumbo. Um dos pontos do choro está aqui. É insuportavelmente revoltante o país ainda não ter julgado os responsáveis por tudo aquilo.
O fechamento de horizontes também causa angústia. É impossível trazer Rubens de volta, não se pode viver seu luto, não se pode gritar, não se pode radicalizar com cinco filhos sob sua responsabilidade. A ausência do marido vem com a companhia asquerosa dos vermes do exército que vigiam sua casa.

Foto: Divulgação
Ainda estar aqui é uma luta não performática, é não quebrar por completo e ainda ser uma pedra no sapato dos resquícios da ditadura, dos grileiros. É ainda ter o poder de tocar as massas com sua atitude de vida.
Uma história de família, sim. Mas que toca num lugar dolorido e urgente de todo um país. O público sai emocionado porque é comovente e exemplar ter sido a vida de Eunice Paiva um princípio formal de um filme de cinema e de uma luta incansável.

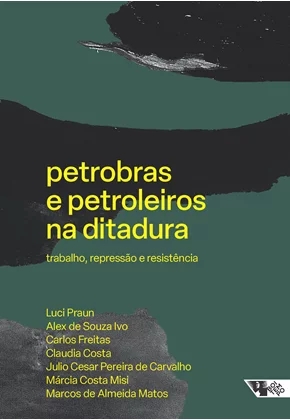
Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, de Luci Praun, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Luiz Marques, Márcia Costa Misi, Marcos de Almeida Matos e Vitor Cerqueira Góis
No ano em que se completam 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, chega às livrarias a obra Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, coletânea que aborda a relação entre a Petrobras e a ditadura no país. Fruto de investigação realizada ao longo dos últimos anos, o livro aprofunda e amplia o pouco que sabemos sobre a colaboração da maior empresa do Brasil com o brutal regime de exceção que imperou no país durante 21 anos.
O que resta da ditadura, organização de Edson Teles e Vladimir Safatle
Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, o livro reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira. O livro reúne textos de escritores e intelectuais como Maria Rita Kehl, Jaime Ginzburg, Paulo Arantes, Ricardo Lísias, Tales Ab’Sáber, Janaína de Almeida Teles e Jeanne Marie Gagnebin, que buscam analisar o que permanece de mais perverso da ditadura no país hoje.
***
Diogo Dias é doutorando de filosofia na Unifesp, onde estuda teoria crítica do cinema no Brasil





Deixe um comentário