Lições literárias de György Lukács
O filósofo húngaro György Lukács com a escritora alemã Anna Seghers, via Wikimedia Commons
Por Nicolas Tertulian
O contato com os escritos de Lukács teve sobre mim um efeito catártico. A partir dos anos 1954-1955, pude ler Problèmes du réalisme [Problemas do realismo], Beiträge zur Geschichte der Ästhetik [Contribuições à história da estética], O jovem Hegel, O romance histórico e alguns capítulos do livro sobre a particularidade como categoria da estética. Mais tarde, eu descobriria progressivamente os limites de seu pensamento, a amplitude de suas concessões à linha de seu partido, certa unilateralidade de seus gostos estéticos, o caráter inaceitável de várias de suas análises, em particular as críticas injustas dirigidas, em A destruição da razão, a Benedetto Croce, minha outra admiração da época. Os julgamentos muito dogmáticos, como aquele sobre Proust na introdução de A destruição da razão, não me agradavam (sobre esse ponto, ele mais tarde reviu radicalmente sua posição, como mostra a entrevista concedida a Naïm Kattall em 1966, publicada em La Quinzaine Littéraire).1 Mas naquele momento meu estado de espírito era de entusiasmo. Eu estava impressionado pela coerência de seu marxismo, por sua concepção do “grande realismo”, que me parecia o antídoto mais poderoso contra o realismo socialista tal qual ele foi codificado pela estética soviética, admirava a hermenêutica inovadora de seus estudos de crítica e de história literária. E pude constatar, em seguida, que minha reação não era uma exceção. Em seu livro sob tantos aspectos premonitório, La Pensée cative [Mente cativa], Czesław Miłosz mencionou “o caso Lukács” desencadeado em Budapeste em 1949-1950, quando as autoridades húngaras chegaram até a acusar o filósofo de ser “um Rajk da cultura”. Nessa ocasião, o futuro Prêmio Nobel chamava a atenção para “as razões profundas e ocultas” do “entusiasmo suscitado por suas obras entre os marxistas das democracias populares”: “víamos nele o precursor de um renascimento filosófico e de uma nova literatura, diferente daquela da União Soviética”. Miłosz apontava também, com pertinência, sempre a propósito dessa excomunhão de Lukács, que nada assustava tanto os dirigentes dos partidos comunistas no poder quanto os “heréticos” da doutrina; “o menor afastamento” e “o menor desvio da linha” pareciam um “fermento de agitações políticas”.
Na Polônia, Jan Kott, o autor do célebre Shakespeare, nosso contemporâneo, estava entre aqueles que haviam se mostrado mais sensíveis aos ensaios de Lukács sobre o realismo, como ele mesmo diz em seu livro autobiográfico La Vie en sursis [A vida em suspenso]. Ele conta que, estando em Paris antes da guerra, foi influenciado por três personalidades tão diferentes como André Breton, Jacques Maritain e György Lukács. O surrealismo, o neotomismo e a doutrina do realismo coabitavam pacificamente em seu espírito, graças à aversão comum que seus defensores devotavam ao “naturalismo”. Foi efetivamente o antinaturalismo consubstancial à teoria de “grande realismo” de Lukács que seduziu Kott, e sobretudo a presença, como pano de fundo, dos grandes movimentos históricos nas análises literárias lukacsianas (ele faz referência notadamente aos ensaios sobre Balzac e Stendhal). A ideia de “Grande Mecanismo”, que estrutura seu livro sobre Shakespeare, não me parece ser alheia a essa constante presença da face oculta da história nos ensaios de Lukács. Jan Kott enviou seu livro sobre Shakespeare a Lukács, que lhe comunicou o recebimento em uma carta datada de 15 de agosto de 1964. Lukács se mostrou sensível à perspicácia e à originalidade de certas análises de Kott (sobretudo à desmistificação da imagem “romântica” de Shakespeare), mas fundamentalmente não escondeu seu desacordo com a “kafkazação” do universo shakespeariano, mais precisamente com o propósito de remodelar esse universo segundo as experiências da barbárie e das atrocidades do século XX (o hitlerismo e o stalinismo). Inspirado por essas experiências, o conceito de “Grande Mecanismo”, por meio do qual Kott reconstruía o universo shakespeariano das peças, recebeu de Lukács um comentário crítico a respeito da ausência de figuras como Horácio ou Brutus, e de um personagem tão importante para as “peças históricas” como Henrique V, o que traduziu a unilateralidade de sua perspectiva. Sua antiga familiaridade com o mundo das peças de Shakespeare (ao qual ele dedicou páginas notáveis desde seu primeiro livro sobre a história do drama moderno, e alguns decênios depois em O romance histórico, sem deixar de lado também um texto tardio como “Über einen Aspekt der Aktualität Shakespeares” [Sobre um aspecto da atualidade de Shakespeare, 1964] ou as considerações desenvolvidas na Estética) permitiam mostrar de modo convincente os limites da interpretação de Jan Kott. A carta é um documento significativo sobre o “historicismo” inflexível da abordagem lukacsiana da literatura: a gênese do universo shakespeariano é projetada sobre o pano de fundo dos grandes conflitos sócio-históricos situados na encruzilhada do crepúsculo do feudalismo e da afirmação dos valores da Renascença, e a “modernização” empreendida por Kott é refutada tanto em nome de considerações sócio-históricas quanto no plano estritamente estético (o “trágico” shakespeariano metamorfoseado por Kott em “absurdo” beckettiano).
No início e em meados dos anos 1950, a literatura romena, submetida ao controle estrito do partido, sofria de um esquematismo aflitivo, ao qual muitas vezes foram sacrificados até escritores de primeira linha, que, depois, foram traduzidos com sucesso na França e em outros lugares, entre eles Zaharia Stancu, cujos livros aparecem no catálogo das edições Albin Michel, ou Petru Dumitriu. No final de 1954, tive a ideia de escrever um pequeno ensaio intitulado “Schematism şi realism” [Esquematismo e realismo]. Com o objetivo de dar bases teóricas a minhas observações sobre o caráter falso e o moralismo insuportável de certos livros, aludi à troca de cartas entre Marx e Engels, de um lado, e Ferdinand Lassalle, de outro, a propósito do drama Franz von Sickingen. Os fundadores do marxismo refutavam a retórica schilleriana sobre as falas da peça em nome de um realismo shakespeariano. Eu não conhecia ainda o texto de Lukács dedicado a esse debate epistolar,2 um importante ensaio demonstrando que a oposição estética, shakespearização ou schillerização, refletia duas concepções opostas de história: a de Marx e Engels, impregnada de realismo histórico, e a de Lassalle, que se sacrificou ao moralismo e a um idealismo subjetivo fichtiano. Minhas precauções (a referência aos textos de Marx e Engels) não serviram para nada. Publicado em dois números pelo semanário Gazeta Literară, meu ensaio provocou a cólera do partido, que divulgou um ataque devastador. Pouco depois, fui convocado pelo responsável do setor literário do comitê central do partido, um certo Virgil Florea, que me enviou uma advertência severa. No ano seguinte, no congresso dos escritores, Zaharia Stancu, um dos escritores visados pelo meu artigo, não se esqueceu de atacar meus “erros ideológicos”. A sensibilidade dos escritores às críticas é conhecida, e é normal que eles protestem, mas, nas condições em que vivíamos, as acusações ideológicas assumiam uma importância ainda maior. Eu mesmo a usei, com o ímpeto e a inconsciência da juventude, e fui punido pelo pecado que cometi.
No contexto das grandes agitações de meados do século XX, que tiveram grande influência na sensibilidade dos escritores e dos artistas, o peso da Weltanschauung, da “concepção de mundo”, e da capacidade de dominar uma matéria histórica em ebulição ou, dito de outro modo, os problemas da autonomia e da heteronomia da arte, exigia ser repensado. Em seus escritos, Lukács defendia a autonomia da imaginação produtiva do escritor em relação a sua ideologia discursiva (a “vitória do realismo” em grandes escritores como Balzac e Tolstói, que, entretanto, professavam pontos de vista conservadores), mas atribuía uma grande importância, em suas análises literárias, à visão de mundo imanente à criação, ou seja, à qualidade da apreensão da história. Seu método de análise literária supunha a imersão na interioridade da obra para descobrir as conexões entre a visão de mundo do escritor e a estrutura estética, valorizando as tonalidades afetivas que impregnavam o tecido da obra e sua expressão estilística. Ele se preocupava, do mesmo modo que Benedetto Croce, em distinguir entre poesia, não poesia e antipoesia (a distinção de Croce assumia em Lukács a forma de uma oposição entre Kunst e Belletristik; a arte e as belas-letras), mas se recusava a dissociar o valor estético da “perspectiva” ou do “ponto de vista” do escritor. Em seu ensaio “Narrar ou descrever?”, a comparação entre duas cenas que acontecem em um hipódromo – uma em Anna Karenina, de Tolstói, e outra em Naná, de Zola – tinha o objetivo de mostrar, no nível da estrutura narrativa, os efeitos divergentes da “atitude” dos respectivos escritores: a de um “participante”, no caso de Tolstói, e a de um “observador”, no caso de Zola. Lukács visava assim suprimir a antiga dicotomia entre crítica estética e crítica ideológica, preconizando a fusão dos dois pontos de vista. Um exemplo: em sua Estética, ele cita um depoimento de Musil segundo o qual os escritores modernos teriam desaprendido a criar “tensão” (Spannung) em seus romances e se contentavam em “captar o interesse” (fesseln), com frequência pelos meios de ensaísta. Em outra carta a Cesare Cases, de 15 de maio de 1961, ele associa essa crise da representação à crise ideológica de Musil diante da escalada do fascismo. Não discuto aqui a pertinência dessa observação, recordo-a somente como muito característica da abordagem de Lukács.
[…]
Em 1954, li atentamente vários capítulos da obra de Lukács Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik [Sobre a particularidade como categoria da estética], publicados na Deutsche Zeitschrift für Philosophie [Revista alemã de filosofia] de Berlim. Li esses capítulos como uma reação ao sacrifício das determinações e das mediações concretas praticado pelos marxistas oficiais. Lukács demonstrava que uma verdadeira lógica do concreto não pode abstrair o campo da particularidade (a Besonderheit), zona móvel situada entre a singularidade e a generalidade, e insistia no papel das mediações concretas. No plano estético, a valorização da categoria do particular assumiu o sentido de um vigoroso apelo ao realismo e de uma rejeição do universalismo abstrato que era regra na má literatura da época, uma mistura de bons sentimentos e slogans políticos. Ao discursar em 1956, no primeiro congresso dos escritores romenos, a que já me referi, tentei aproveitar a lição de Lukács insistindo na importância do particular na prática literária; mencionei, em apoio a essa tese, o sucesso de um romance histórico que acabava de ser publicado, Un om intre oameni. Seu autor, Camil Petrescu, que nutria ambições filosóficas, elaborou antes da guerra uma teoria do concreto em uma obra, inédita na época (e só publicada após sua morte), sobre a doutrina da substância. Ele se mostrou sensível a minha abordagem e me transmitiu isso de forma calorosa.
Tomei conhecimento do papel desempenhado por Lukács por ocasião dos eventos da Hungria em 1956, em particular de suas conferências ou de suas intervenções no Círculo Petőfi, por meio da revista Aufbau, de Berlim (em que foi publicado, no número 9 de 1956, seu importante texto intitulado “Der Kampf des Fortschritts und der Reaktion in der heutigen Kultur” [A luta entre progresso e reação na cultura atual]) ou das publicações italianas que se podia consultar na biblioteca do Instituto de Relações Exteriores de Bucareste (onde lia o semanário Il Contemporaneo, a publicação mensal Società ou o jornal do partido comunista italiano L’Unità, os únicos meios de saber o que se passava efetivamente na Hungria). Lukács desenvolveu em seus textos e em suas intervenções uma crítica aberta e sistemática ao stalinismo. Denunciava o subjetivismo e o despotismo stalininiano e reivindicava uma via democrática, orgânica, de transição para o socialismo, fundada na persuasão e não na arbitrariedade e na violência. Visando aos métodos dos partidos comunistas existentes, que, em caso de necessidade do apoio do Exército Vermelho, podiam fazer qualquer coisa, ele citou em um de seus discursos a famosa frase de Talleyrand: “Pode-se fazer tudo com as baionetas, exceto sentarmos em uma delas”. Somente muito mais tarde soube de sua prisão e da de Imre Nagy, que durou seis meses, em Snagov, perto de Bucareste.
Na época, nosso isolamento era tal que mesmo o “Relatório Kruschev” permaneceu desconhecido para nós. As conclusões do XX Congresso não nos diziam respeito, pois o partido comunista romeno considerava que suas práticas estavam acima de qualquer suspeita. Em seu discurso no Círculo Petőfi em junho de 1956, Lukács dirigiu uma acusação contra o regime de Mátyás Rákosi, sublinhando o desvirtuamento do pensamento de Marx e a maneira como seu espírito havia sido ocultado por uma escolástica estéril, fiel à fórmula glossant glossarum glossas. Ele não hesitou em dizer que a situação do marxismo estava pior sob o regime de Rákosi do que sob o regime do chefe almirante Horthy.
À medida que eu tomava conhecimento dos diferentes textos publicados por Lukács após 1956 e da radicalização de sua crítica ao stalinismo (por exemplo na carta endereçada, em 1962, a Alberto Carocci ou em seu ensaio sobre o conflito entre a China e a União Soviética, publicado em 1964 em Les Temps Modernes), me dava conta das razões profundas que o haviam levado a se associar ao movimento insurrecional húngaro em 1956 (ministro da Cultura no governo de Imre Nagy, ele declarará mais tarde que esperava conferir uma expressão ideológica ao movimento). Por ocasião de sua deportação para a Romênia, ele recusou categoricamente as imposições para se dissociar das posições de Nagy. Em seu livro publicado em Bucareste, que reuniu documentos concernentes ao grupo de Imre Nagy durante sua deportação para Snagov, Ileana Ioanid relatou anotações feitas pelo secretário-geral do partido, Gheorghe Gheorghiu-Dej, à margem dos processos verbais das discussões destinadas a fazer Lukács se curvar. O movimento húngaro de 1956 assombrava, no mais alto grau, a mente dos dirigentes do partido comunista romeno, e as anotações de Gheorghiu-Dej provam isso: em certo momento, ele manifesta grande irritação com a defesa de Lukács do espírito do movimento insurrecional de 1956 e exprime seu desprezo pelos caminhos políticos do “filósofo”.
Ao voltar da deportação, Lukács foi submetido em seu país a um regime severo de ostracismo intelectual e político, com a proibição de toda manifestação pública. As vexações, as humilhações e as perseguições se sucederam (negaram-lhe, por exemplo, o direito de enviar o manuscrito de sua Estética para seu editor na Alemanha Federal ou para a Editori Riuniti em Roma; os apparatchiks do partido comunista húngaro propuseram que ele se exilasse no Ocidente se quisesse ver sua obra publicada, proposta que o filósofo rejeitou com desprezo). As desventuras de Lukács adquiriram o valor de símbolo do destino reservado a um pensamento autenticamente marxista pela burocracia reinante nos partidos comunistas no poder (sem esquecer, é claro, da posição semelhante dos ideólogos do partido comunista francês, pois, em 1959, Jean Kanapa ridicularizou Lukács em um texto publicado nos Cahiers du Communisme [Cadernos do comunismo], colocando-o no topo da lista dos pensadores “revisionistas”, seguido do nome de Henri Lefebvre).
Em diversas ocasiões, naquela época, tive chance de perceber a animosidade profunda que o nome de Lukács suscitava entre os ideólogos oficiais orientais. Durante o verão de 1964, por ocasião de uma reunião internacional de escritores em Lahti, na Finlândia, da qual participei com dois outros escritores romenos, o poeta Nichita Stănescu e o prosador Dumitru Radu Popescu (era a primeira vez e seria a única em que a União dos Escritores Romenos me designava como membro de uma delegação enviada ao exterior, a virada “independentista” da política romena implicava certa abertura para o mundo ocidental), encontrei, entre os participantes, Alexandre Tchakovski, o redator-chefe do semanário soviético Literaturnaya Gazeta, uma das figuras mais proeminentes do establishment ideológico soviético. Minha menção ao nome de Lukács na discussão desencadeou comentários repletos de ódio contra ele por parte do temível ideólogo soviético. Tchakovski queria que eu soubesse que o “revisionismo” de Lukács não era um caso recente, mas datava da Segunda Guerra Mundial, e que eles, na União Soviética, tinham denunciado o caráter antimarxista de seus caminhos estéticos desde os anos 1930, por ocasião dos debates sobre as relações entre ideologia e literatura. Sabe-se que Lukács e o grupo reunido em torno da revista Literaturnyj kritik [Crítica literária] foram efetivamente alvo de ataques dos representantes oficiais da linha soviética, Fadeev e Ermilov, que lançaram o anátema sobre o modo como o filósofo húngaro interpretava a tese de Engels a respeito da “vitória do realismo”: Lukács a utilizava como uma arma para defender a autonomia da imaginação criativa do escritor em relação a sua ideologia discursiva.
Alguns anos mais tarde, por ocasião da visita de uma delegação de escritores do leste alemão a Bucareste, pude ouvir um deles expressar descontentamento em relação ao fato de Lukács não ter sido condenado à morte após sua participação no levante húngaro de 1956: o regime de Walter Ulbricht e seus aduladores guardavam um rancor tenaz contra aquele que encarnava, na visão deles, o espírito do Círculo Petőfi e que teria sido o inspirador da contestação ideológica em seu partido.
Por fim, gostaria de mencionar brevemente um terceiro episódio que me concerne mais pessoalmente, mas que ilustra mais uma vez as razões da hostilidade profunda dos marxistas stalinianos em relação às posições lukacsianas. No início dos anos 1970, chegou a Bucareste um dos mais conhecidos filósofos soviéticos, Mikhail Trifonovitch Iovtchouk, redator responsável por uma história da filosofia em vários volumes, divulgada nos países socialistas como uma obra de referência. Iovtchouk era, portanto, um representante autorizado da linha soviética oficial. Em um discurso pronunciado no Instituto de Filosofia da Academia, ele desaprovou fortemente um texto sobre Lukács que eu havia publicado na época, em particular minha afirmação de que, com as “teses de Blum” formuladas em 1928 e que preconizavam uma via democrática de passagem ao socialismo na Hungria, diferente da ditadura proletária soviética, Lukács tinha razão contra as posições defendidas pela direção de seu partido (liderado por Béla Kun) e pela Internacional Comunista. Iovtchouk reiterou esse ataque na Hungria em uma intervenção diante dos quadros ideológicos do partido, julgando inadmissível que se pudesse justificar a posição de Lukács após ele ter sido condenado por seu partido e pela Internacional. Eu tinha violado, com minha justificativa das “teses de Blum”, um dos dogmas mais caros à ortodoxia comunista, a infalibilidade do partido, chegando à heresia de apoiar escolhas políticas condenadas pelo partido e pela Internacional. De fato, mas Iovtchouk silenciou sobre o seguinte “detalhe”: alguns anos após a formulação das “teses de Blum”, diante do avanço do fascismo e do nazismo, a política de ampla coalizão das forças democráticas (a linha da Frente Popular), antecipada de modo profético pelas “teses de Blum”, se tornou a linha oficial da Internacional.
É bem possível que esse ataque por parte de um filósofo oficial soviético esteja na origem de certos dissabores que sofri pouco tempo depois em Budapeste, onde estive várias vezes, a partir de meados dos anos 1960, para encontrar Lukács e, depois de seu falecimento, para encontrar seu filho Ferenc Janossy, ou ainda para frequentar o Arquivo Lukács. Nos anos 1970, retornando a Bucareste após ter participado dos Encontros Internacionais de Genebra, quando o trem parou na estação de Budapeste, vi entrar no vagão um oficial da polícia húngara que pegou meu passaporte e me proibiu de deixar meu assento durante a parada do trem. Após cerca de meia hora, um minuto antes da partida, ele voltou para me devolver o passaporte e me pediu para ficar em minha cabine até a fronteira com a Romênia. A meus pedidos de explicação sobre esse tratamento inabitual, ele respondeu com um sorriso malicioso, cujo motivo eu podia adivinhar por conta própria, e, quando perguntei abertamente se eu era persona non grata na Hungria, ele respondeu com um sinal afirmativo. Na época, fiquei tentado a atribuir a origem desse episódio completamente inesperado (não era comum confiscar passaporte de um cidadão de um “país irmão” e impedi-lo de pisar no território húngaro) a minhas boas relações com Ágnes Heller e Ferenc Fehér, antigos discípulos de Lukács, que, na época, eram muito malvistos pelas autoridades de seu país (pensei que suspeitavam que eu estivesse levando alguma mensagem de seus amigos da Europa Ocidental e queriam me impedir de transmiti-la a eles). Mas Fehér e Heller, a quem eu contei mais tarde o que havia acontecido, me deram outra explicação, completamente diferente: na opinião deles – e eles estavam em melhores condições para avaliar a situação –, foi muito mais o anátema lançado por Iovtchouk, o representante oficial soviético, que levou as autoridades húngaras a me submeter ao tratamento discriminatório e me impedir de ter qualquer contato com quem quer que fosse em Budapeste. Nessa época, um veredicto negativo pronunciado por um representante ideológico do grande país irmão pesava muito na balança.
Por que Lukács?, de Nicolas Tertulian
Por que Lukács? é o que se poderia chamar de uma autobiografia intelectual do pensador romeno Nicolas Tertulian, construída tendo como contraponto as obras de György Lukács e eventos que marcaram a vida de ambos. No livro, Tertulian apresenta ao leitor a relação intelectual dele com o filósofo, as motivações que o levaram a se dedicar ao conjunto da obra de Lukács, ao mesmo tempo que lista informações sobre os escritos de Lukács e sobre seus embates com figuras de destaque de seu tempo.
Notas
- Uma tradução desta entrevista foi publicada pela Boitempo na coletânea Essenciais são os livros não escritos: últimas entrevistas (1966-1971). ↩︎
- O ensaio foi publicado pela Boitempo no volume Marx e Engels como historiadores da literatura, que traz como apêndice a tradução da correspondência entre Lassalle, Marx e Engels sobre a peça. ↩︎
CONHEÇA A COLEÇÃO BIBLIOTECA LUKÁCS



O romance histórico, de György Lukács
Escrito em 1936-37, O romance histórico de György Lukács é considerado o trabalho mais significativo do filósofo nos anos de exílio na União Soviética. Inédito em português, o livro traz textos preparatórios para uma “estética marxista”. Nele, o filósofo húngaro amadurece os fundamentos da sua teoria dos gêneros literários com uma abordagem materialista da história da literatura moderna e investiga a natureza da interação entre o espírito histórico e a grande literatura: correntes, ramificações e pontos de confluência que, do ponto de vista da teoria, são característicos e imprescindíveis. “E isso apenas em relação à literatura burguesa; a mudança provocada pelo realismo socialista ultrapassa os limites de meu estudo”, delimita o autor.
O jovem Hegel, de György Lukács
Concluído no final de 1938 e publicado uma década depois, este é um dos trabalhos filosóficos mais importantes de György Lukács. O livro, até então inédito em português, foi um marco na recepção de Hegel no Brasil. Analisa as primeiras obras de Hegel, resgatando momentos cruciais da formação do pensamento hegeliano. Essencial para entender a filosofia de Hegel e sua influência no marxismo.
Essenciais são os livros não escritos: últimas entrevistas (1966-1971), de György Lukács
Compilado de entrevistas que revela as reflexões e análises do filósofo húngaro sobre questões ontológicas, políticas e culturais. Pensador que, até seus últimos dias, discute o socialismo, as lutas dos anos 1960 e a necessidade de retornar ao pensamento marxiano, uma valiosa perspectiva para o presente.
Para uma ontologia do ser social, volumes I e II, de György Lukács
Obra de síntese, Para uma ontologia do ser social é a mais complexa sistematização filosófica de seu tempo. Considerada o ápice intelectual do filósofo húngaro György Lukács, um dos maiores expoentes do pensamento humanista do século XX, a Ontologia (como se tornou conhecida), concebida no curso dos anos 1960, significa o salto da ontologia intuída à ontologia filosoficamente fundamentada nas categorias mais essenciais que regem a vida do ser social, bem como nas estruturas da vida cotidiana dos homens.
Prolegômenos para uma ontologia do ser social, de György Lukács
Nesta obra póstuma, além de introduzir e contextualizar a obra em dois volumes Para uma ontologia do ser social, os Prolegômenos acrescentam a ela novas reflexões e abordagens, complementando-a. Partindo da premissa marxiana de que a realidade deve ser não somente analisada e compreendida mas principalmente transformada, ao redigir este material Lukács tinha nos ombros o peso de uma série de desilusões e derrotas da esquerda no período posterior à Revolução de 1917. Buscava partir de Marx para reformular as perspectivas revolucionárias de então, apontando respostas aos impactos que o stalinismo causara no projeto comunista. Certamente aqueles que ainda se preocupam com uma atuação social transformadora não podem deixar de analisar esta importante contribuição para o pensamento revolucionário.

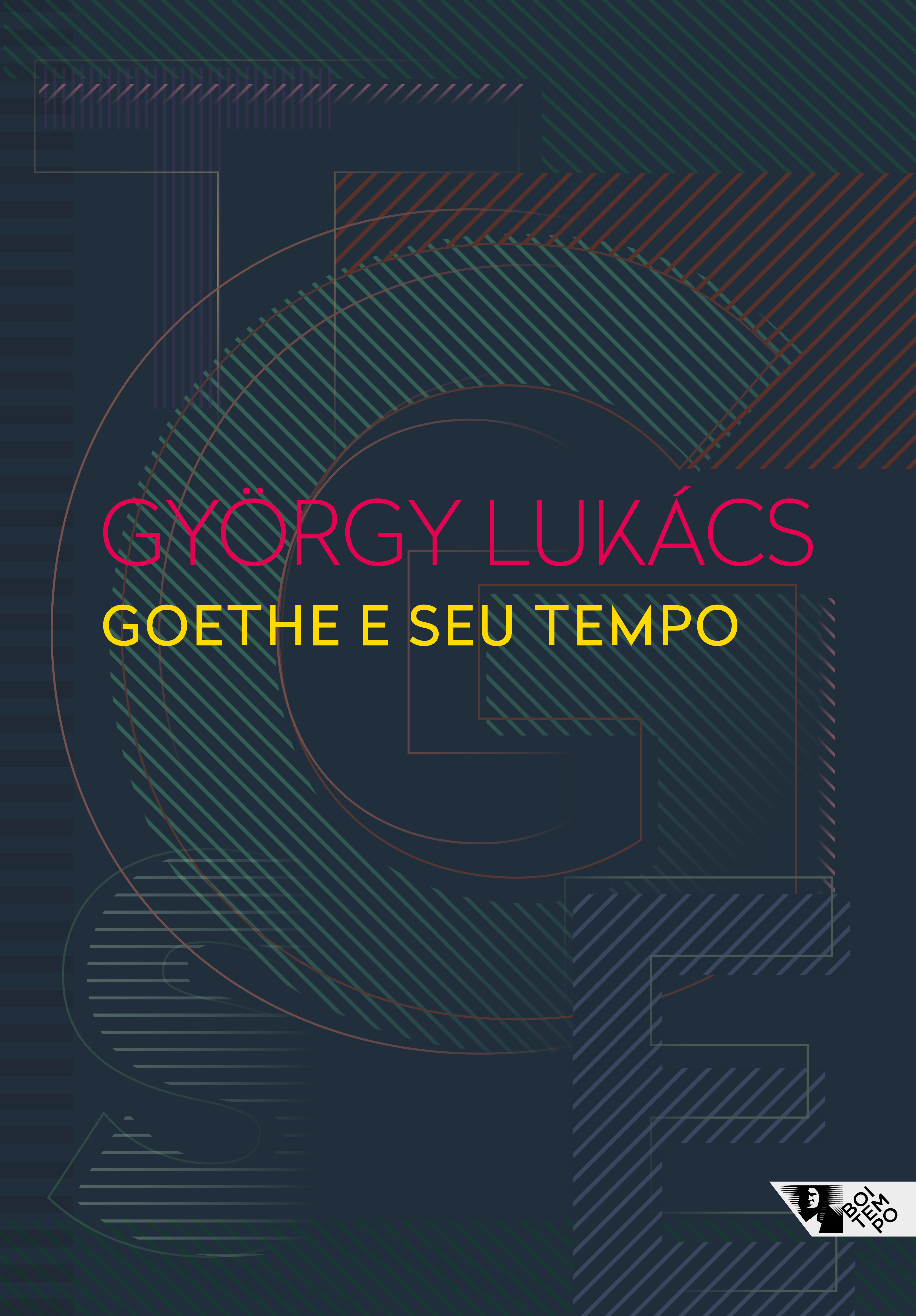

Marx e Engels como historiadores da literatura, de György Lukács
Marx e Engels se ocuparam a fundo dos problemas da arte e da literatura, mas não chegaram a publicar escritos abordando o tema de maneira sistemática. Nesta obra, o filósofo húngaro György Lukács realiza um trabalho magistral de destrinchar e examinar o tratamento que os fundadores do marxismo dedicaram ao tema da estética.
Goethe e seu tempo, de György Lukács
Cinco ensaios revelam uma análise única de Goethe, oferecendo uma visão iluminadora da importância progressista da obra do autor no contexto histórico e literário, contrapondo interpretações deturpadas. Um mergulho na compreensão do papel cosmopolita e humanista do jovem Goethe na Revolução Burguesa.
Estudos sobre Fausto, de György Lukács
A obra reúne o mais completo ensaio sobre Goethe e sua obra maior entre as diversas produções de Lukács sobre o tema, publicados em 1940. Segundo o professor Luiz Barros Montes, os textos encerram uma análise dos aspectos temáticos e formais da obra magna de Goethe “que reconhece sua característica ‘incomensurável’ não como um índice de incongruências formais e temáticas, mas como uma totalidade artística viva, na qual suas contradições e limites são analisados em perspectiva histórica como um todo orgânico”. Os Estudos sobre Fausto assinalam, segundo Lukács, a configuração dramática da dialética indivíduo e sociedade como um dos grandes êxitos de Goethe, uma conquista poética sobredeterminada pelo desenvolvimento histórico alemão.
Estética: a peculiaridade do estético – Volume 1, de György Lukács
O primeiro volume da Estética, monumental obra de György Lukács publicada em 1963, é leitura imprescindível para a compreensão do pensamento lukacsiano sobre o fenômeno artístico.
A edição brasileira será dividida em quatro volumes (a original foi publicada em dois) e será entregue anualmente ao leitor. Estética: a peculiaridade do estético – Volume 1 traz reflexões de Lukács sobre a experiência estética, o papel da arte, da ciência, da cultura e da política na sociedade: “Há características que singularizam o empreendimento lukacsiano realizado na Estética – e uma delas, de evidência inquestionável, consiste em que esse empreendimento constitui a formulação mais desenvolvida de uma estética sistemática produzida no interior da tradição marxista”, escreve José Paulo Netto na apresentação da obra.
CONTEÚDOS GRATUITOS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
Assista, na TV Boitempo, a íntegra dos debates e conferências realizados durante o Seminário Internacional “A atualidade de György Lukács”, realizado pela Boitempo, IREE e Programa de Pós-graduação em Sociologia (FFLCH/USP) com apoio do CENEDIC, em outubro de 2023.
Composto de 10 aulas, ministradas por alguns dos maiores estudiosos da obra lukácsiana no Brasil, o I Curso Livre Lukács foi realizado em 2015, celebrando os 20 anos da Boitempo, em parceria com a PUC-SP.
***
Nicolas Tertulian (1929-2019) foi um filósofo franco-romeno. Assina o posfácio à nossa edição dos Prolegômenos para a ontologia do ser social, de György Lukács










Deixe um comentário