Petroleiros contra a ditadura empresarial-militar
Por Richard Martins
Na última década, o campo de estudos sobre a ditadura instaurada em 1964 no Brasil tem se renovado. A despeito de seus limites institucionais, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (2011-2014), bem como a instalação de comissões locais e setoriais, vinculadas a entidades públicas e organizações da sociedade civil, contribuíram para consolidar noções e recuperar informações e testemunhos acerca das violações de direitos cometidas sob o regime autoritário. Ao mesmo tempo, tais iniciativas, por limitadas que fossem, despertaram com frequência a sanha dos apologistas da ditadura, que contra elas dirigiram acusações de “parcialidade” e “revanchismo”. As batalhas pela memória social das ditaduras, travadas a partir das “redemocratizações” no Cone Sul, seguem abertas, mas, especialmente no caso brasileiro, parece cada vez mais evidente a relação entre a ausência de medidas contundentes de justiça de transição, por um lado, e a ascensão de uma “narrativa neurótica enviesada e negacionista”1 sobre o passado ditatorial, servindo de suporte a novas aventuras golpistas, por outro.
As fontes legadas pelas comissões da verdade, contudo, provaram-se particularmente úteis para novas empreitadas historiográficas, que, em alguns casos, extravasaram o âmbito acadêmico, articulando-se a políticas públicas e iniciativas da sociedade civil para a promoção de memória, verdade, justiça e reparação. No campo da historiografia do trabalho, à disponibilidade dos novos acervos documentais, soma-se, com cada vez mais frequência, a perspectiva teórico-metodológica da responsabilidade empresarial em violações de direitos, que tem orientado a condução de investigações sobre a participação das classes dominantes, de grandes empresas e agentes econômicos na implantação de ditaduras e na condução das atividades repressivas características desses regimes no contexto da Guerra Fria, com especial atenção para as consequências dessa aliança empresarial-militar sobre os mundos do trabalho. Entre as questões levantadas pelos estudos dessa seara, cada vez mais frequentemente conduzidos desde uma perspectiva multidisciplinar, constam relevantes debates propriamente historiográficos, como o das especificidades de ditos regimes, a temática das permanências e rupturas que acompanharam sua instalação, bem como as verificadas durante as “transições democráticas,” e o problema das periodizações adequadas a cada regime.2 Na esteira dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), e como resultado da militância contínua de trabalhadores, sindicalistas, perseguidos políticos e seus familiares, prosperaram algumas iniciativas de questionamento ao papel cumprido por grandes empresas que atuaram no Brasil durante a ditadura. Entre 2015 e 2020, três inquéritos civis investigaram a responsabilidade da Volkswagen em violações de direitos humanos, culminando em um Termo de Ajustamento de Conduta, bem como na imposição de uma multa à empresa. Uma parcela do montante destinou-se ao financiamento de novas pesquisas, coordenadas pelo Centro de Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (CAAF/Unifesp), que, entre 2021 e 2023, escrutinaram a atuação de dez grandes empreendimentos econômicos e a amplitude de seus vínculos com o regime.3
Petrobras e petroleiros na ditadura detalha os resultados da investigação sobre a então estatal no âmbito desse projeto. Assinam o volume a coordenadora da pesquisa, Luci Praun, e os membros de sua equipe, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Márcia Costa Misi e Marcos de Almeida Matos, que se revezam na autoria dos capítulos. O livro conta com um breve prólogo de Victoria Basualdo, uma das maiores especialistas latino-americanas na temática da responsabilidade empresarial em violações de direitos, e com um prefácio de Rosa Maria Cardoso da Cunha, em que a advogada, integrante e coordenadora da CNV, apresenta possíveis conexões entre a atuação da Petrobras nos “anos de chumbo” e a Doutrina de Segurança Nacional (DSN).
O restante da obra organiza-se em quatro partes. A primeira, “Origens: a empresa e seus trabalhadores”, corresponde aos dois primeiros capítulos e oferece um panorama da evolução da empresa, desde sua fundação, em 1953, até a década de 1980. O primeiro capítulo, “Breve histórico das políticas petrolíferas”, redigido por Julio Carvalho, dedica-se a contextualizar a história da empresa a partir dos embates entre distintas concepções acerca do papel que ela deveria cumprir no âmbito de um projeto de industrialização na periferia do capitalismo, com foco nas movimentações das classes dominantes. No capítulo 2, “As primeiras gerações de petroleiros”, Luci Praun complementa tal abordagem, reconstruindo as trajetórias de vida de sete trabalhadores que atuaram na empresa entre as décadas de 1950 e 1960, articulando-as às lutas operárias mais gerais do período e aos avanços verificados no âmbito da organização sindical no pré-golpe. Frequentemente em diálogo com o trabalhismo e com o PCB, petroleiros que, via de regra, partilhavam origens humildes e pouca ou nenhuma experiência política prévia, engajaram-se em atividades sindicais, bem como nas massivas campanhas de defesa da estatal, cristalizadas na palavra de ordem “O Petróleo é Nosso”, resultando no que Praun identificou como um processo de politização que os levou a desenvolver um “nacionalismo peculiar” (p. 76).
A segunda parte do volume, “Empresa estratégica: controlar a Petrobras, derrotar os petroleiros”, abrange os capítulos 3 a 10, e dá conta de diversos aspectos da pesquisa referentes ao período da ditadura empresarial-militar. Enquanto o capítulo 3, “Golpe de 1964 e ‘operação limpeza’ nas unidades da Petrobras”, assinado por Praun e por Alex Ivo, aborda o imediato pós-golpe, apontando os vínculos entre o alto comando da estatal e as Forças Armadas, responsáveis pela perseguição politicamente motivada contra milhares de petroleiros (que incluiu centenas de Inquéritos Policiais Militares e mais de 500 demissões ainda naquele ano, para além das graves denúncias acerca de prisões ilegais e tortura realizadas dentro de instalações da empresa), o texto seguinte, “Sentidos da militarização da Petrobras”, elaborado por Julio Carvalho, explora os efeitos da penetração da DSN e do acirramento da Guerra Fria sobre a caserna, elemento importante para a implementação do controle militar sobre unidades produtivas “estratégicas”, que resultou num modelo de intensificação da exploração e da repressão contra seus trabalhadores. O capítulo 5, “Nem episódicas, nem acidentais”, redigido por Praun e Costa, visa detalhar a estrutura repressiva montada na Petrobras a partir do golpe, responsável pelo planejamento e pela execução de uma série de violações de direitos contra seus trabalhadores, dentro e fora da estatal, e é sem dúvida um dos pontos altos da obra.
No sexto capítulo, “Ciclo de lutas de 1967-1968, recomposição da ação sindical petroleira e seus desfechos no pós-AI-5”, Praun e Ivo tratam da retomada da atividade sindical no período, rapidamente interrompida por um novo ciclo repressivo. Outro ponto de destaque da obra está no capítulo seguinte, “O manejo do direito pela ditadura empresarial-militar: o caso do FGTS na Petrobras”, escrito por Freitas, Praun e Ivo. Aqui, o trio dá conta das alterações impostas ao direito do trabalho no período, evidenciando as manobras da estatal para dispensar trabalhadores antes que eles obtivessem estabilidade em seus postos. O capítulo 8, “Perseguição a trabalhadores homossexuais pela Petrobras durante a ditadura”, assinado por Freitas e Márcia Costa Misi, relaciona o conservadorismo ditatorial e o controle moralista que a empresa e as agências repressivas que operaram desde seu interior buscavam exercer sobre as vidas pessoais de seus operários.
Avançando sobre a temática do controle político e complementando aspectos delineados no capítulo 5, o nono texto, “Tessituras da colaboração empresarial-militar”, redigido por Praun e Freitas, recupera a atuação da Petrobras em organismos mais amplos de vigilância e monitoramento, indicando o protagonismo da estatal nas teias repressivas espalhadas por todo o país, que visavam livrar o mercado de trabalho brasileiro dos “subversivos” e dos “indesejados”. Tais organismos, efetivamente, contribuíram para o prolongamento dos ecos de processos repressivos prévios enfrentados por trabalhadores da Petrobras, por exemplo, ao colocar demitidos políticos em situação de desemprego crônico, como resultado do intercâmbio de informações entre empresas e agências de “segurança e informações” que, na prática, operavam como elaboradoras de “listas sujas”. Por fim, no capítulo 10, “Punhos erguidos”, Alex Ivo trata do ciclo de lutas de 1978-1983, indicando a importância da militância
petroleira no cenário de enfraquecimento do regime ditatorial.
A terceira parte da obra, “Fome de petróleo, não importa onde”, engloba os três capítulos seguintes, e dá conta de temáticas que apenas recentemente passaram a compor a agenda de investigações acerca da responsabilidade empresarial por violações de direitos durante os regimes ditatoriais da segunda metade do século XX. No capítulo 11, “A fome de petróleo: expansão da Petrobras, repressão e o vínculo com capitais privados”, Julio Carvalho aprofunda a análise iniciada no capítulo 1, e elenca indícios das vantagens econômicas obtidas por diretores da estatal durante a ditadura; o décimo segundo capítulo, “Vila Socó e Pojuca: violações contra comunidades urbanas vulneráveis”, assinado por Claudia Costa, adentra a seara das violações ambientais, indicando as relações entre o projeto ditatorial para a empresa e as negligências, omissões e ações perpetradas pela Petrobras contra as comunidades que habitavam os arredores de suas refinarias, a partir da análise de dois episódios com consequências trágicas. Por sua vez, o capítulo 13, elaborado por Marcos de Almeida Matos em colaboração com Vitor Cerqueira Góis, recupera violações de direitos dos povos originários, a partir da atuação da estatal na prospecção de petróleo e gás no Vale do Javari, entre 1972 e 1985.
A quarta parte da obra, “Lições do passado: olhar o presente, mudar o futuro”, composta dos capítulos 14 e 15, traz análises de questões candentes no debate público atual, e que servem de conclusão ao volume. O capítulo 14, “Não há transição energética numa sociedade do crescimento”, escrito pelo historiador Luiz Marques a convite dos autores, oferece-nos prognósticos realistas (e, portanto, nada otimistas) acerca das perspectivas de um declínio da utilização de combustíveis fósseis, tão necessário quanto distante. Marques arrola ainda evidências de que “a responsabilidade do Brasil na aceleração do caos climático situa-se entre as piores do mundo” (p. 300), e de que a Petrobras segue ignorando as ameaças à biodiversidade oriundas de seu modelo de atuação, a despeito de incontáveis alertas, pareceres técnicos e graves acidentes. Encerrando a obra, o capítulo 15, “A necessidade do debate jurídico na luta por reparações no campo da justiça de transição”, assinado por Freitas e Misi, esmiúça os sentidos e o alcance das políticas de reparação implementadas desde a redemocratização no Brasil e, a partir dos resultados do estudo de caso da Petrobras, propõe uma tipificação das violações comprovadas e dos grupos de vítimas atingidas, além de indicar possíveis caminhos para uma efetiva política de memória, justiça e reparação.
Ainda que brevemente delineadas (Cf. p. 319-322), as tipologias construídas pelos autores para historiar as relações entre a Petrobras e a ditadura são abrangentes, e denotam sua preocupação em extrair elementos úteis de empreitadas similares (como a pesquisa encabeçada pelo Archivo Nacional de la Memoria na Argentina, responsável pelos dois volumes do relatório Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, de 20154), adaptando-os às especificidades da estatal brasileira. Os resultados obtidos, impressionantes em si mesmos, tornam-se ainda mais significativos se levarmos em conta que a metodologia de pesquisa empregada pode ser utilizada com proveito para o estudo das relações entre a ditadura e outras empresas, setores econômicos e categorias de trabalhadores.
Particularmente útil a todos os que se interessam pelo período ditatorial brasileiro, e fundamental para quaisquer estudos vindouros sobre a Petrobras em perspectiva histórica, a obra atesta a importância das empreitadas coletivas de pesquisa para o enfrentamento da problemática da responsabilidade empresarial em violações de direitos humanos. Mesmo uma equipe altamente qualificada, com relevantes trabalhos monográficos publicados sobre o assunto, enfrentou inescapáveis dificuldades para conduzir a pesquisa, e teve de efetuar escolhas metodológicas (a partir de critérios apresentados na introdução do volume) para lidar com o gigantismo da documentação sobre a Petrobras e com a abrangência nacional da atuação da estatal. Note-se que, embora hoje possamos encontrar em arquivos públicos um volumoso corpus documental oriundo da Petrobras, os autores puderam perceber que “a disponibilização do material foi precedida de seleção” (p. 33), estando ausentes, por exemplo, os relatórios e a correspondência relacionada aos chamados “Planos de Busca”, típicos da atividade repressiva da empresa no período ditatorial.
Um debate que a leitura da obra pode suscitar entre os historiadores do trabalho relaciona-se ao fato de que as perspectivas mais recentes dessa produção historiográfica, por vezes, parecem não ultrapassar o âmbito de nossa própria disciplina. Exemplo disso pode ser encontrado na opção tomada pelos autores de não se aprofundarem na análise das complexas relações entre organizações de classe, partidos e trabalhadores no período anterior ao golpe (p. 58), muito embora tal problemática permeie os depoimentos apresentados ao longo do capítulo 2. Ainda que a opção seja compreensível, especialmente diante da natureza original da obra, formulada com o intuito de comprovar violações de direitos e fundamentar políticas de reparação, uma abordagem mais atenta às contribuições da historiografia do trabalho traria nuances importantes às conclusões e generalizações propostas pelos autores, neste e em outros pontos. Parece-nos que as investigações acerca dos mundos do trabalho sob a ditadura, mesmo quando reúnem especialistas de áreas diversas, seguem privilegiando um referencial eminentemente sociológico, enquanto o diálogo com os acúmulos historiográficos tende a ocorrer de maneira ilustrativa e incidental. Esse fenômeno talvez reflita aquilo que Larissa Correa e Paulo Fontes definiram como uma entrada tardia da historiografia nos debates acerca da ditadura brasileira,5 e nos incita a empenhar maiores esforços na divulgação científica e na proposição de debates interdisciplinares, muito embora a responsabilidade pela incorporação dessas perspectivas, evidentemente, caiba a todos os profissionais que lidam com a história dos trabalhadores.
Petrobras e petroleiros na ditadura não é, portanto, um trabalho que pretenda esgotar as questões que levanta, e mesmo a análise das violações cometidas no âmbito da Petrobras deixa margens amplas para seu aprofundamento (especialmente em termos geográficos, já que os autores optaram por privilegiar a pesquisa acerca das unidades da empresa situadas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo). Ainda assim, trata-se de um dos mais bem-acabados resultados das investigações coordenadas pelo CAAF/Unifesp, e sua publicação indica a importância da colaboração entre diferentes instituições e esferas da sociedade no acerto de contas com os traumas de nosso passado recente. Além disso, delineia uma das estratégias que nos parecem mais poderosas para que aqueles que estão comprometidos com a defesa de valores democráticos e com o “Nunca Mais” intervenham na disputa, sempre política, da memória social da ditadura: responder ao negacionismo com evidências empíricas robustas, que põem abaixo a ideia de que a ditadura respondia aos anseios de uma sociedade supostamente homogênea, indicando, pelo contrário, que ela surgiu dos (e serviu aos) interesses das classes dominantes.
* Texto originalmente publicado na revista Mundos do Trabalho, v. 17
Notas:
- NAPOLITANO, Marcos. Desafios para a história nas encruzilhadas da memória: entre traumas e tabus. História: questões & debates, Curitiba, v. 68, n. 1, p. 18-56, jan.-jun. 2020 ↩︎
- Exemplos de estudos recentes sobre os mundos do trabalho durante a ditadura brasileira, atentos a seu caráter empresarial-militar, estão em: ESTEVEZ, Alejandra. Relações Igreja-Estado em uma cidade operária durante a ditadura militar. Revista Brasileira de História, v. 35, p. 207-232, 2015. NAGASAVA, Heliene. O sindicato que a ditadura queria: o Ministério do Trabalho no governo Castelo Branco (1964-1967). Jundiaí: Paco Editorial, 2018. SILVA, Ana Beatriz R. B. Corpos para o capital: acidentes de trabalho, prevencionismo e reabilitação profissional durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Jundiaí: Paco Editorial, 2019. MARTINS, Richard. Lutas vigiadas: militância operária, retaliação patronal e repressão no Vale do Paraíba (1979-1994). Salvador: Sagga, 2022. ↩︎
- Os informes do Projeto “Responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura” podem
ser consultados aqui. ↩︎ - Disponível aqui. ↩︎
- CORREA, Larissa R.; FONTES, Paulo R. R. As falas de Jerônimo: trabalhadores, sindicatos e historiografia da
ditadura militar brasileira. Anos 90, Porto Alegre, v. 23, n. 43, p. 129-151, jul. 2016. Cf. p. 138 ss. ↩︎
***
Richard Martins é doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas.
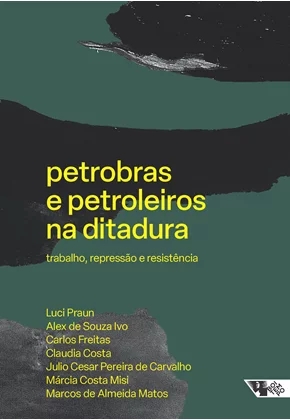
Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, de Luci Praun, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Luiz Marques, Márcia Costa Misi, Marcos de Almeida Matos e Vitor Cerqueira Góis
Fruto de investigação realizada ao longo dos últimos anos, esta coletânea de ensaios aborda a relação entre a Petrobras e a ditadura civil-militar, aprofundando e ampliando o pouco que sabemos sobre a colaboração da maior empresa do Brasil com o brutal regime de exceção que imperou no país durante 21 anos.
A obra se divide em quatro partes. De início, os autores abordam o contexto de criação da Petrobras e seu papel estratégico no projeto desenvolvimentista da época. Em seguida, os textos tratam das motivações do golpe, da colaboração entre a empresa e o regime, e das consequências da nova ordem na vida dos trabalhadores e na atuação dos sindicatos. Construído esse embasamento, os autores falam dos beneficiários das ações da empresa no período, além de apresentar casos emblemáticos de crimes ambientais perpetrados tanto pela Petrobras quanto pelos militares. Por último, temos um olhar para o futuro e um debate sobre a atual crise climática e uma possível justiça de transição.
O lançamento da obra coincide com o momento de fragilidade democrática que o país atravessou nos últimos anos. Na apresentação, os autores destacam o retorno significativo dos militares em cargos estratégicas durante o mandato de Jair Bolsonaro e refletem sobre a dificuldade da sociedade civil em criar um futuro livre de repressão e violência: “O nunca mais, apesar de manter sua importância e vigor, fragiliza-se em termos de efetividade, porque não tem a força que resulta da compreensão crítica e socialmente referenciada do passado e de sua incorporação à memória coletiva. Assim, assistimos, por um lado, ao espraiamento e à naturalização de condutas que violam direitos fundamentais; por outro, às vivências reiteradas da violência”.
OUTRAS LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
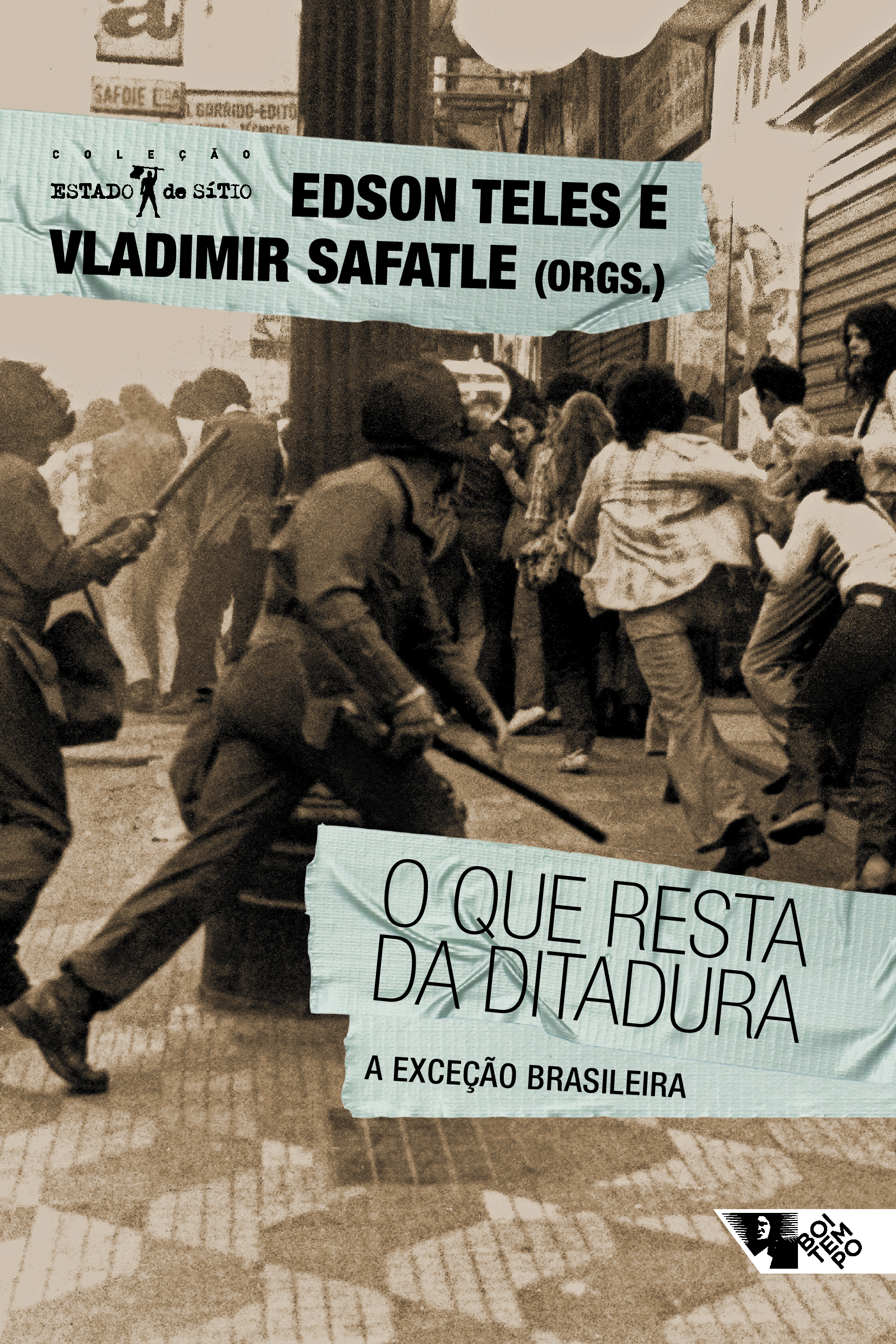

O que resta da ditadura: a exceção brasileira, organização de Vladimir Safatle e Edson Teles
Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, O que resta da ditadura reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira.
Cães de guarda, de Beatriz Kushnir
Nascido de intensa pesquisa sobre um dos aspectos fundamentais do regime militar: sua relação com os órgãos de imprensa, da censura à colaboração. Beatriz Kushnir a formação, as bases jurídicas e as diretrizes que orientavam o trabalho da censura, baseando-se em extensa pesquisa documental, além de entrevistas, inclusive com onze censores – aspecto inédito – cujo trabalho era “filtrar”, na imprensa e nas artes, o que incomodasse o regime não só no campo político, como também na cultura e até no campo da moral.



Desmilitarizar, de Luiz Eduardo Soares
Segurança pública tem sido tema recorrente na agenda pública, mas sua transformação profunda nunca esteve em cogitação. Nesta obra, o antropólogo Luiz Eduardo Soares coloca em questão as razões para o imobilismo brasileiro em face da questão da violência. A partir do entendimento dos problemas diagnosticados tanto na esfera pública quanto na privada, o autor oferece propostas e orientações claras para superá-los.
Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua superação
Coletânea que reúne vozes distintas, como psicanalistas, pesquisadores e ativistas, para abordar a complexa problemática da violência policial no Brasil. Desde análises críticas sobre a mídia até reflexões sobre desmilitarização e direitos humanos, oferece uma visão abrangente sobre um tema crucial.
O ódio como política, de Esther Solano (org.)
Um panorama amplo e diversificado das direitas pós-ditadura militar no Brasil, revelando facetas históricas, políticas e culturais que contribuíram para a atual polarização e radicalização política. Este livro oferece reflexões essenciais sobre o panorama político brasileiro.



Sinfonia inacabada, de Antonio Carlos Mazzeo
Análise apaixonada e crítica do PCB e da esquerda no Brasil, traça a história destacando erros e acertos, e examina a luta por um futuro melhor, tudo no contexto dos 100 anos de fundação do PCB. Um olhar essencial sobre a esquerda no Brasil.
Caparaó: a primeira guerrilha contra a ditadura, de José Caldas da Costa
Um grupo de ex-militares protagonizou a primeira resistência armada à ditadura no Brasil, buscando criar um foco de guerrilha no Caparaó. Este relato detalhado, resultado de extensa pesquisa e entrevistas, revela suas motivações, a luta diária na serra e a complexidade interna do grupo.
Memórias, de Gregório Bezerra
Uma impressionante narrativa autobiográfica que traça a vida de um icônico líder da resistência à ditadura militar no Brasil. A história do líder comunista é contada com paixão, sofrimento e a busca incansável por justiça social. Um relato inspirador e impactante da luta por igualdade e socialismo.
PARA CONVERSAR SOBRE A DITADURA COM AS NOVAS GERAÇÕES
A ditadura é assim, de Equipo Plantel, com ilustrações de Mikel Casal
O cotidiano de um emburrado ditador ilustra como funciona a sociedade dentro de um regime autoritário. A ditadura é assim é o segundo volume da coleção Livros para o amanhã, que discute a maneira como as pessoas se relacionam em sociedade. O propósito deste livro é mostrar o funcionamento e os perigos da ditadura partindo de exemplos simples, a fim de que as crianças compreendam o problemas existentes em um sistema político que privilegia uma única corrente de pensamento em detrimento das outras.
A misteriosa história do ca.di.re.me., de Tatiana Filinto
Em um mundo de conexões instantâneas, Julia e Olivia desvendam segredos através de cartas, mergulhando em reflexões entre endereços distantes. Quando o misterioso sumiço do diário compartilhado por elas se entrelaça com o desaparecimento de Zulmira na ditadura, uma trama delicada e cheia de mistério se desenrola. Amizade, amor e transformação costuram esta narrativa única, convidando você a desvendar enigmas e emoções entre páginas
CONTEÚDOS GRATUITOS SOBRE O ASSUNTO







Deixe um comentário